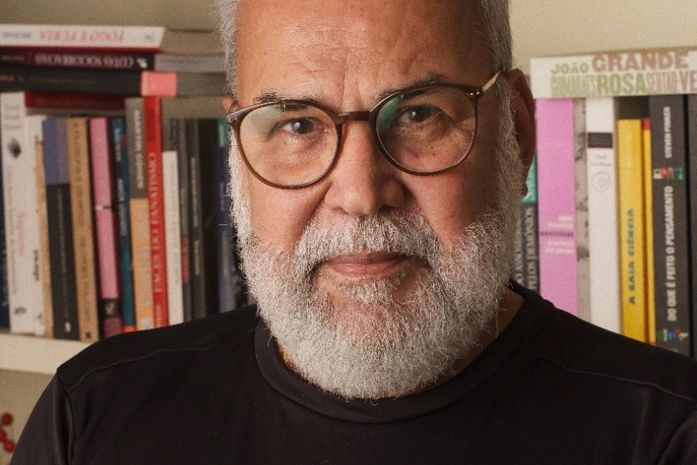Eu costumo rever, com frequência, filmes de que gostei, e o faço com o mesmo prazer da primeira vez, desde que a história seja bem contada e tenha interpretações que me sejam memoráveis. Só que tentei, não faz muito tempo, assistir de novo A caça, filme dinamarquês com o excelente Mads Mikkensen (o mesmo ator do premiado Drunk), já reconhecido pelo seu talento por todos os que gostam de cinema, no mundo inteiro - mas parei no meio do caminho. Aliás, ainda no começo.
Fato é que eu não consegui seguir adiante, após o início da história que já conhecia. Logo constatei que o sufocante sentimento que me tomou ao final da sessão inaugural voltou com mais força, já às primeiras cenas que anunciavam o que vinha pela frente.
A razão é simples: incomodam-me demais as histórias sobre grandes injustiças, engendradas a partir de pequenas suspeitas, mas capazes de destruir para sempre a vida de uma ou mais pessoas. Quem já viu o filme sabe do que eu estou falando; quem não viu, sugiro que o faça - vale muito a pena encarar o belo enredo sobre a amizade, sim, e sobre a nossa irrefreável necessidade humana de versões chocantes, que nos levem ao definitivo julgamento do “outro”. Ao que parece, isso nos faz sentir melhores do que quase sempre somos.
Mas a vida imita a arte e vice-versa, disse alguém num tempo em que as palavras já conseguiam encontrar o seu melhor sentido. Eis que me deparei, na semana que passou, em pleno carnaval, com a série documental O caso Escola Base (Canal Brasil), ocorrido em 1994.
É doloroso, para qualquer um (uma) que tenha a sua empatia em dia, deparar-se com a tragédia daquelas pessoas que foram vítimas de maus policiais e de péssimos jornalistas (pelo menos no caso), trabalhando juntos para um público faminto de enredos absurdos, que revelem o pior da alma humana - que vive em cada um de nós.
Entre os profissionais de imprensa, destaque para o global Valmir Salaro, que trouxe ao público, em primeira mão, a escabrosa história do casal Icushiro Shimada e Maria Aparecida Shimada, da professora Paula Milhim Alvarenga e do marido dela, o motorista Maurício Monteiro de Alvarenga.
(A descendência das duas famílias, por óbvio, ainda carrega as consequências da tragédia.)
O caso, hoje, é um dos temas mais abordados no curso de jornalismo pelo país afora, e serve de mote de acusação para todos os que se mostram incomodados com a ação da imprensa - ainda que nem sempre tenham razão para queixas. Mas, fato concreto, o papel da maioria dos jornalistas na cobertura do episódio, com manchetes escandalosas, sensacionalistas, contaminadas pelo insaciável desejo de agradar ao grande público, foi desabonador.
O justiçamento dos acusados – que viraram vítimas – há de lembrar o drama do capitão francês Alfred Dreyfus, no final do século 19, acusado de traição ao seu país. Ali, também, juntaram-se Estado, imprensa e público para condenar, sem provas, o militar.
Este episódio da história gerou uma pequena obra prima, J’accuse, do escritor Émile Zola, o que lhe custou a vida, praticamente. Mas ele nos deixou um alerta que devemos, principalmente, nós, os jornalistas, lembrar sempre:
- A imprensa é uma força necessária; creio, em suma, que ela faz mais bem do que mal. Mesmo assim, alguns jornais são culpados, uns por desnortear, outros por atemorizar, a fim de triplicar suas vendas.
Tudo óbvio demais, como já havia afirmado, lá atrás, seu compatriota Honoré de Balzac - em Os jornalistas:
- O jornal que tem mais assinante é aquele que se assemelha melhor à massa: conclua!
A culpa, então, é do público?
Eu diria que é dessa parceria insana, que pode fazer do jornalismo um negócio fácil e rentável. Diga-se de passagem: de baixo custo e de retorno garantido. “Sexo e sangue” são os temas mais populares e de maior audiência dos veículos de comunicação, constatou o sociólogo francês Pierre Bourdieu (Sobre a televisão).
Se o caso serviu de aprendizado para a imprensa, como pontuou o próprio Salaro (que protagoniza outro ótimo documentário sobre o tema, no Globoplay), que bom! Isso, no entanto, não veio a tempo de que as vítimas do noticiário demolidor tivessem de volta o sossego e a dignidade que lhes foram roubados. Basta ouvir os depoimentos dos que “sobreviveram” ao ataque policial/midiático/popular:
“Eu virei um zumbi, sou uma morta-viva”, assim se definiu a professora Paula Milhim Alvarenga, que tinha 23 anos na época em que o caso estourou na imprensa de São Paulo e se espalhou celeremente para todo o país. O outro casal, mais velho e que tinha na escola a realização de um projeto de vida, morreu doente e triste.
Se era possível fazer diferente?
Alguns profissionais, mesmo que não tão notórios quanto o global, mostraram que sim. E estou me referindo àqueles da minha “espécie” que poderiam ter comemorado o furo de reportagem, mas resistiram à tentação, movidos por algo que há de ser sempre fundamental para qualquer jornalista: a dúvida.
O documentário é um “mea-culpa” da imprensa nacional?
Nem tanto. Basta ver o que o jornalismo policial, notadamente, nos apresenta a cada dia, com seus âncoras televisivos especializados em berros e condenações sociais. E vão até mais além: clamam pela morte de monstros “adolescentes e perigosos”. Confesso que não acompanho, e sempre me incomodei com esse tipo de noticiário, desprovido, em regra, de empatia e de respeito pelos “criminosos” pobres – e quase sempre pretos - e que busca falar o idioma das multidões enfurecidas.
O caso da escola infantil, que atendia crianças de até cinco anos de idade, tinha os ingredientes que o levariam ao absoluto sucesso de público, independentemente de classe social/econômica e de formação escolar: sexo e violência (contra garotos menores indefesos). A investigação apressada e a divulgação vomitada a cada dia construíram uma história impiedosa e, acima de tudo, de muita injustiça.
Salaro aprendeu do pior jeito, mas hoje sabe que ninguém vence um embate com a própria consciência.

Ricardo Mota