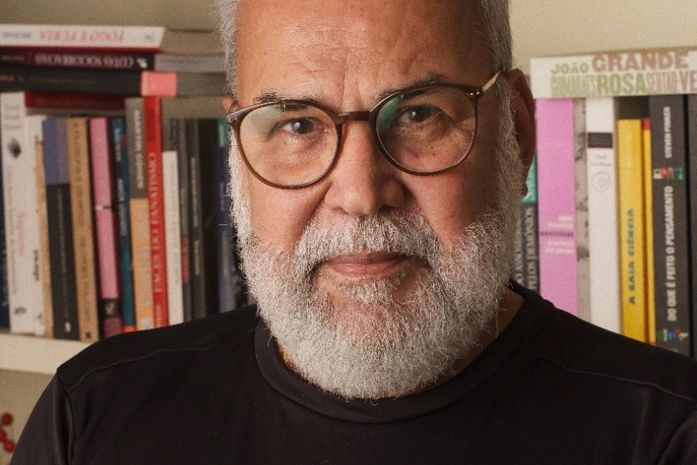Em março de 1971, Millôr Fernandes concedeu uma entrevista ao Pasquim, surpreendendo os ávidos leitores da publicação. Afinal, ele era o grande destaque do time que trazia craques da imprensa e do humor como Jaguar, Ziraldo, Sérgio Cabral (o pai), Tarso de Castro e outros famosos da turma do deboche e da crítica.
Ninguém, porém, mais festejado e temido do que o jornalista que foi batizado Milton, mas que adotou Millôr como nome: era só mais um escracho – ou homenagem? - com o escrivão do cartório onde foi registrado, em 28 de maio de 1923. Se o homem tinha um jeito peculiar de escrita – o traço do “t”, solto, não cortou a parte superior da letra –, por que não aproveitá-lo? Isso seria o de menos e ajudaria a lhe dar uma identidade única.
Vaidoso?
O sujeito que nunca passou por um banco universitário – frequentou uma escola técnica -, se sabia gênio e não escondia a sua descoberta. Dele disse o ótimo Zuenir Ventura, jornalista e escritor:
- É possível que a pessoa de quem Millôr Fernandes mais goste, que mais admire, com quem convive há quase 80 anos e sobre o qual é capaz de discorrer durante horas como um especialista, se chame Millôr Fernandes.
Uma crítica dura?
Nada disso:
- A primeira razão é o conhecimento de causa: admira porque conhece como ninguém o objeto da sua admiração; a segunda é porque não cultiva a modéstia, falsa ou verdadeira: não tem dúvidas de pertencer à categoria dos seres incomuns, privilegiados, desmentindo sua própria frase: “Como são admiráveis as pessoas que não conhecemos bem!”.
Fato concreto é que Millôr foi admirado e odiado, creio, na mesma proporção.
Aos seus colegas do jornal, fundado em 26 de julho de 1969 (sumiu em novembro de 1991) e que vivia, então, uma das suas tantas crises financeiras, ele foi logo respondendo ao modo, na entrevista a que me referi lá em cima:
“Eu disse que se o Pasquim fosse independente, não chegaria ao terceiro mês. Se chegasse ao terceiro mês, não era independente. Se você pegar o Pasquim, verá exatamente que à altura do terceiro mês ele deixou de ser independente”.
E seguiu, incorrigível iconoclasta que era, afirmando que a intenção dos colegas ali na entrevista era “esculhambá-lo posteriormente”. Muitos o fizeram, é verdade. Porque ele batia, e batia muito, mas também apanhava. Com Chico Buarque, a quem tratou na mesma conversa como “meu amigo”, veio a trocar cusparadas, garrafadas e palavrões num bar do Leblon.
Fato concreto é que Millôr conquistou muito cedo o direito de não ser ignorado por ninguém, mesmo os que não lhe reservavam os melhores sentimentos. Com pouco mais de 20 anos de idade já era o jornalista mais bem pago do Rio de Janeiro, tinha carro – incomum na época – e morava num apartamento à beira-mar.
Mas seguia uma das suas máximas - a minha preferida, aliás: “Imprensa é oposição. O resto é armazém de secos e molhados”. Fato inegável: destruiu reputações enquanto construía a sua, moldada em uma inteligência privilegiada e no destemor de quem não leva a sério a turma do poder e/ou da fama.
Pois bem! Esse sujeito faria cem anos no último dia 16 de agosto. “Comemorei” a data lendo alguns dos ótimos e respeitosos artigos escritos sobre ele. Mas eis que veio o atropelo. A verdade é que um amigo que se preze deve nos ajudar a resolver problemas – só que às vezes eles os criam.
Foi o caso do Álvaro Machado, companheiro desde os tempos no movimento estudantil, na década de 1970, que me cobrou uma crônica, lembrando que eu já havia, aqui mesmo neste espaço, me arriscado a discorrer – inúmeras vezes, aliás – sobre o “gênio da raça”: - Mas nunca se diz tudo e nunca é demais repetir o Millôr (isso é faca nos peitos, gente!).
E ainda concluiu com o clássico “s.m.j.”. Mas ora, pois! Melhor juízo, eu, sim, deveria ter tido e daria por esquecida essa cobrança, ainda que de alguém tão querido, com quem prezo trocar divertidas conversas. Resultado: fiquei por um bom tempo a me indagar: depois do que li na semana que passou, e até do que já postei, mesmo sendo o menor entre os escribas, dizer mais o quê sobre Millôr?
"Vou deixá-lo falar por si", pensei, buscando fazer um exercício de futuro (presente) sobre um cara que morreu em 2012, ainda que condenado à imortalidade. Considerado por muitos como o maior frasista brasileiro – só encontra rival em Nelson Rodrigues -, o tradutor de Shakespeare que aprendeu inglês nos dicionários, escritor, autor teatral e, acima de tudo, um grande pensador e perscrutador da alma humana, é abundante e preciso nas suas palavras. Então a elas, pelo menos as mais atuais e definitivas:
“Deem-me uma multidão e um microfone e eu lhes dou um bom fascista”.
“Defensor constante e ardoroso da instituição familiar é casado e tem quatro filhos. Mas a mulher não sabe.”
“A estupidez vai longe, e não paga passagem.”
“Ladrão, mentiroso, tarado, fanático, covarde, traidor. Mas do nosso lado.”
“Quando os milicos vão admitir que civilização vem de civil?”
Ah, meu caro Álvaro, meu querido leitor, minha estimada leitora, peço perdão, mas paro por aqui. O sujeito era prolífico demais e eu não pretendo cair na armadilha de escolhas imprecisas, tendendo à injustiça. Além disso, a noite me chama para o repouso, que, imagino, não há de ser o último (confesso que me diverti muito, agora, relendo a Bíblia do caos).
Então, para não dizer que não falei de uma alegre saudade, deixo-vos em companhia do epitáfio que o Millôr cunhou para si próprio:
- Não contem mais comigo.
(Mas só vale por agora.)

Ricardo Mota