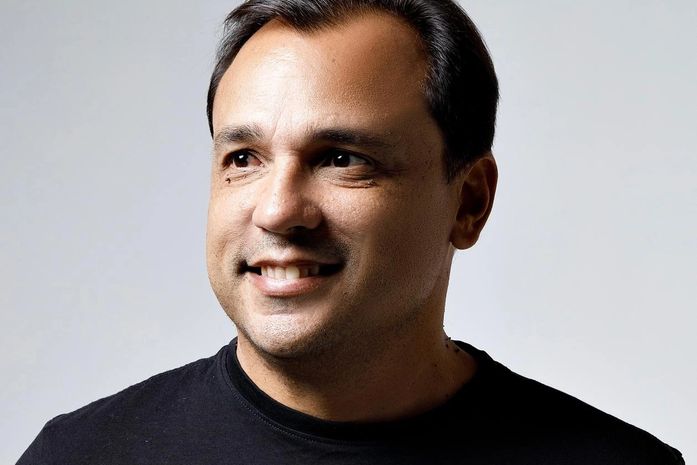O Estado brasileiro nasceu antes da nação. Enquanto em outros países a sociedade pressionou o Estado a se formar, aqui foi o Estado que se impôs à sociedade, moldando-a segundo suas próprias conveniências. Essa singularidade e inversão de origem marcou profundamente a cultura política nacional: o poder sempre foi centralizado, paternalista e, sobretudo, patrimonialista — confundindo o público com o privado, o governo com o governante. É verdade que esse modelo garantiu estabilidade inicial, evitando a fragmentação territorial que atingiu a América Hispânica e assegurando alguma continuidade institucional. Ainda assim, o saldo negativo superou em muito o positivo.
De Getúlio Vargas (1930) a Dilma Rousseff (2014), essa estrutura manteve-se com variações de forma, mas não de essência. O fio condutor é claro: uma crença quase mítica no Estado como motor do progresso, árbitro da economia e provedor do bem-estar social. Mesmo sob regimes e ideologias distintas, o Brasil preservou um padrão recorrente de intervencionismo estatal, sustentado por uma burocracia concentradora e por elites que orbitam o poder público como fonte primária de recursos e legitimidade. Foi justamente a intensidade desse debate — reacendido após um post despretensioso no X (antigo Twitter) — que motivou este artigo.
O ciclo se inaugura com Getúlio Vargas, figura ambígua e fundadora do Estado Novo. Sob o pretexto de promover a industrialização e garantir a “ordem social”, Vargas consolidou um Estado forte, centralizador e corporativista. Criou estatais estratégicas, subordinou sindicatos ao controle do governo e transformou o Estado em agente direto da economia. Seu projeto não era liberal nem conservador: tratava-se de um nacional-desenvolvimentismo de matiz coletivista e autoritário, que buscava conciliar controle político com modernização econômica. O Estado assumiu o papel de pai e tutor da sociedade — e, com isso, cristalizou uma cultura de dependência e tutela que marcaria as décadas seguintes.
O regime militar (1964–1985) radicalizou esse modelo sob roupagem tecnocrática e revolucionária. O “milagre econômico” foi construído sobre um Estado hipertrofiado, que planejava, investia e regulava praticamente tudo. O capital privado existia, mas orbitava em torno das benesses públicas — financiamentos do BNDE, monopólios estatais, proteção tarifária e subsídios. A lógica patrimonialista persistia, agora sob disciplina rígida: elites empresariais e burocráticas continuavam a se beneficiar como sócios privilegiados do poder. A centralização política e fiscal ampliou a distância entre Estado e cidadão. O Estado cresceu; a sociedade, não. Quarenta e sete novas estatais foram criadas durante o regime militar — símbolo de uma economia estatal onipresente e de uma democracia adiada.
Com o fim do regime, esperava-se uma inflexão liberal e democrática — mesmo após a Constituição de 1988, inspirada por um ideário socializante. E, por isto mesmo, a redemocratização apenas trocou os atores: o roteiro institucional permaneceu o mesmo. Sarney manteve a máquina estatal inflada; Collor ensaiou uma abertura liberal, mas sem base política; Itamar e FHC precisavam de caixa e iniciaram privatizações e reformas, ainda assim dentro dos limites da tradição centralizadora. O Estado, longe de se restringir às suas funções clássicas, reposicionou-se como árbitro e sócio oculto das elites econômicas — um socialismo fabiano tropical, em que a mão do governo continuava onipresente, ainda que mais discreta.
O governo Lula representou a síntese e a atualização do varguismo. Em vez de romper com a herança centralizadora, o PT a reinventou sob o signo da inclusão social. O neodesenvolvimentismo apostou na expansão do crédito público, nos investimentos via BNDES e na revitalização de estatais estratégicas, especialmente a Petrobras — que de nossa não tem nada. A política combinava redistribuição de renda com intervencionismo econômico: de um lado, ampliava o consumo popular; de outro, inchava o Estado e fortalecia a simbiose entre poder político, sindicatos e grandes grupos empresariais — os chamados “campeões nacionais”, leia-se JBS & Cia.
Nos longos oito anos de Lula, a velha lógica patrimonialista apenas mudou de rosto. Em vez do empresariado industrial varguista, surgiram conglomerados dependentes de crédito público e de contratos com o Estado. O poder político continuou a mediar interesses, não a garantir instituições impessoais. O Estado permaneceu árbitro e financiador de grupos aliados — internos e externos — jamais promotor da livre concorrência, do esforço individual e das decisões descentralizadas.
Com Dilma, o intervencionismo atingiu o limite. A tentativa de retomar o controle direto da economia — congelamento de tarifas, manipulação de preços e expansão fiscal sem freios — desorganizou o equilíbrio macroeconômico e corroeu a credibilidade das instituições. A brutal crise de 2015–2016 revelou a contradição central do ciclo iniciado por Vargas: o Estado mais uma vez quis ser motor do desenvolvimento sem abrir mão de ser também instrumento de poder e de distribuição seletiva de privilégios. O resultado é uma modernização recorrente, porém incompleta — onde o avanço técnico convive com o atraso institucional, social e moral. Lula e Dilma juntos criaram mais de 40 novas estatais, muitas delas deficitárias e dependentes de repasses do Tesouro.
O ciclo de Vargas a Dilma é mais que uma sucessão de governos — é a narrativa de uma permanência. Centralização, intervencionismo, coletivismo e patrimonialismo formam o DNA do Estado brasileiro, que, em nome do progresso, frequentemente sufoca a sociedade. Romper esse ciclo exige mais do que reformas administrativas: requer uma transformação de mentalidade política e civilizacional. É preciso deslocar o eixo da autoridade — do Estado para as instituições, e destas para o indivíduo.
Enquanto o poder permanecer concentrado e personalizado, o Brasil seguirá preso ao mesmo labirinto histórico, com o Leviatã sempre no centro. De Vargas a Dilma, tivemos de tudo — menos uma autêntica direita liberal-conservadora. O Estado foi sempre o mesmo: centralizador, patrimonialista e intervencionista. Mudam os rótulos, não a lógica. Trocam-se as fardas, mas não o método. O estatismo autoritário permanece — e com ele, a estagnação, a pobreza, a ignorância e a dependência.