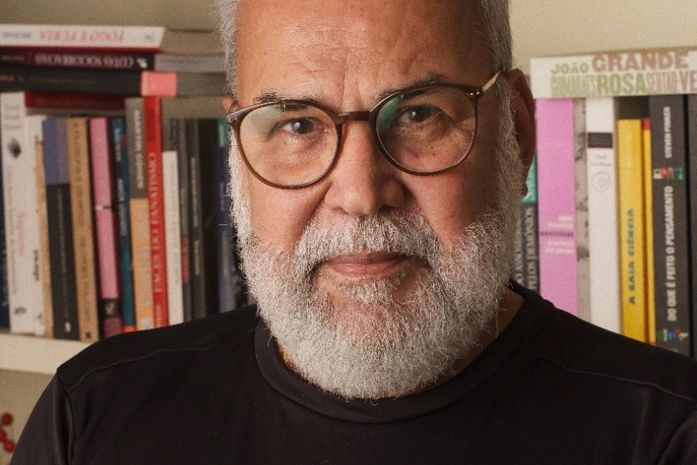Eu os encontro todos os dias, de segunda a sexta, nas minhas caminhadas/corridas matinais. Eles estão sempre juntos, conversando, dando risadas, numa demonstração de que aquele encontro cotidiano faz bem ao corpo e à alma do trio.
Com o tempo, fomos nos conhecendo, trocando breves conversas, o que me levou a ser testemunha em primeira mão do que se pode chamar, sim, de amizade, uma amizade tão antiga que precisa passar por uma datação de carbono-14 para se saber a origem - coisa tão rara quanto cara.
R. J. e E., e isso chamou a minha atenção, sempre estão brincando um com o outro, fazendo provocações só permitidas onde se estabeleceu a confiança e a tolerância mútuas. Cada chiste é respondido na mesma moeda, o necessário tom de deboche e respeito entre aqueles “entões” (como eu).
São brincadeiras ao modo adolescente, o que, na Buarque de Macedo e arredores, chamávamos de “pulhas”, algo que imagino bastante comum entre os da minha geração e das mais próximas. São piadas e provocações de duplo sentido, politicamente incorretas, é verdade, exigindo resposta imediata para que o “adversário” não se sinta vitorioso.
Esta semana, o “rei da pulha”, como chamo em tom de blague o mais ativo nessa função criativa, provocou um integrante menos assíduo do grupo, que os acompanhava. Veio o troco: “Eu não conheço nenhum gay negro. Já homem de bigode...”. Era uma direta no tal "rei", deixando claro por onde a conversa caminhava, em meio a gargalhadas.
Lembrei, na sequência da minha atividade física, de um personagem mitológico, Madame Satã, que ganhou fama e difamação no Rio de Janeiro, onde viveu a maior parte da sua vida. Nascido em Pernambuco, no ano de 1900, João Francisco dos Santos migrou, na juventude, para terras cariocas, onde projetou que seriam maiores as suas chances de sobrevivência como negro, pobre e, eis o fundamental na sua longa história, sendo homossexual assumido: “Sempre fui, sou e serei”.
Viveu até 1976, numa longevidade improvável para quem teve de fazer da valentia e do embate físico um modo de vida, em meio à marginalidade carioca. Artista “transformista”, o que não era ainda tão comum, ficou conhecido por enfrentar e botar para correr guarnições da polícia e valentões que o tomavam como inimigo, mesmo que não fossem importunados por aquele negro franzino, mas bom de briga.
A sua primeira vítima mais conhecida foi um policial, morto em 1928, no mesmo dia em que ele recebera um prêmio, no Teatro Municipal, como “a maravilhosa Mulata Balacochê”, personagem travesti que incorporava em troca de 15 mil réis semanais.
De volta para casa, com fome, resolveu parar num boteco na Lapa, onde morava, e foi abordado pelo “homem da lei”, que não o conhecia, porém logo se mostrou indignado com os trajes “ofensivos” em que o gay negro estava metido. Xingamentos, palavrões e uma cassetetada no meio do rosto. O sangue escorreu pela face do artista da pobreza e da miséria. Foi em casa, pegou um revólver e descarregou no agressor, até deixá-lo sangrando na sarjeta. Esta é a versão oficial do caso, que Satã sempre negou – teria sido acusado injustamente, disse até o fim. Fato é que ele foi preso e condenado pela morte do policial: dezesseis anos, cumpriu dois, mas conheceu ali a dureza da vida na penitenciária, onde fez morada por mais de um terço da sua existência.
(Habituou-se tão bem ao ambiente, assim disse ao Pasquim, em célebre entrevista, na década de 1970, que continuou morando na Ilha Grande, famoso presídio do Rio de Janeiro – por onde passou, entre outros, Graciliano Ramos -, depois de cumprir sua última condenação.)
Após a morte do policial, a história correndo pelos becos e vielas da marginalidade, não pôde mais parar. Sempre era desafiado, sempre reagia e ia dando enredo à sua vasta ficha criminal: três homicídios, treze agressões, várias resistências à prisão, o que o tornou temido até pela polícia - além de furtos, receptação de roubo, ultraje ao pudor e outros pequenos delitos.
O mais surpreendente é que Satã - como o chamavam os amigos - morreu numa cama de hospital, vítima de um câncer de pulmão, aos 76 anos.
Uma das passagens mais tristes desse personagem - herói para muitos, bandido para tantos – diz respeito a um dos grandes compositores populares do Brasil, sambista primoroso, que ficou conhecido por canções como “Falsa baiana”, “Bolinha de Papel” (que o Google atribui a João Gilberto), “Escurinho” (com Arnaldo Passos), “Acertei no milhar” (com Wilson Batista), entre outros sambas clássicos.
Uma história de muitas versões, mas de um desfecho trágico: Geraldo Pereira morreu aos 37 anos num hospital do Rio, em 1955, após uma briga - que ele teria provocado - com o exímio capoeirista que ficou na memória do Brasil como Madame Satã.
É de Pereira, também negro e marginalizado, o tocante e refinado samba-canção “Pedro Pedregulho” (ou “Pedro do Pedregulho”), que conta um tanto do que bem poderia ser a história de ambos (sugiro que você ouça a música interpretada por João Nogueira enquanto lê a letra):
Pedro dos Santos vivia no Morro do Pedregulho
Quebrando boteco, fazendo barulho
Até com a própria polícia brigou
Vivia do jogo e quando perdia só mesmo muamba
Rasgava pandeiro, acabava com o samba
Parece mentira, Pedro endireitou.
Estelinha, orgulho do morro, mulher disputada
Que quando ia ao samba saía pancada
Ao Pedro dos Santos deu seu grande amor
E ele trocou o revólver que usava, fingindo embrulho
Por uma marmita e sobe o Pedregulho
De noite, cansado do seu batedor.

Ricardo Mota