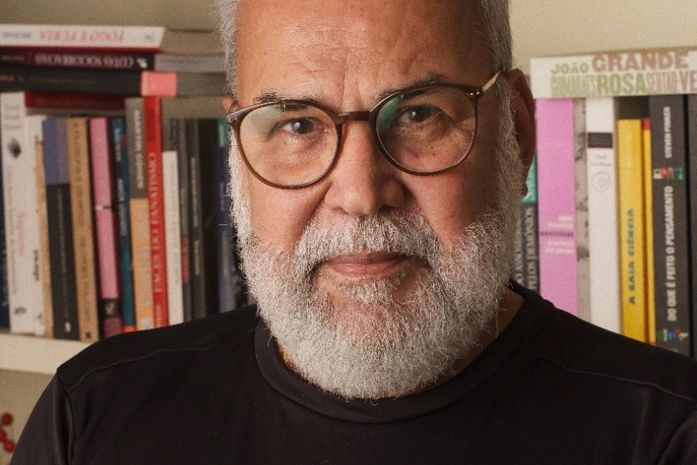“A perfeição não é alcançada quando não há mais nada a ser incluído. A perfeição é alcançada quando não há mais nada a ser retirado.”
A frase acima é de Antoine de Saint-Exupéry, autor de O pequeno príncipe, que muitos consideram “apenasmente” um livro infantil – e não é o meu caso (João Vicente e Joaquim já têm um exemplar guardado com o avô deles, um preto velho e desaforado). Poucos seguiram o ensinamento do escritor e piloto francês com tanta presteza quanto um Brasileiro que também se chamava Tom.
Volto sempre ao Maestro Soberano, por gostar da sua obra cada vez mais, podendo hoje ouvir as várias versões de seus clássicos por ele mesmo. Eis que, fica evidente para mim, o minimalismo de Tom é um traço marcante de sua sabedoria e maturidade artística. Dos arranjos orquestrais às breves e precisas intervenções do piano, ele foi tirando, tirando, tirando, e se aproximando sempre mais da tal da perfeição.
(“Ele só usa as melhores notas”, disse seu parceiro e admirador Vinicius de Moraes a um músico de jazz americano que cobrou a economia de Tom nas execuções ao piano.)
Bom, eu explico essa volta ao mais respeitado e admirado compositor brasileiro em todos os tempos pelo mundo afora: Tom voltou à moda, pelo menos para uma parte do público que prefere seus acordes perfeitos e seu canto, quase sussurro, às vozes capazes de acordar o galo, manhãzinha, ainda que no susto.
Isso se deve ao documentário Elis e Tom, só tinha de ser com você (direção de Roberto de Oliveira), lançado finalmente para o grande (?) público, depois de estrear em outubro do ano passado no Festival do Rio. Creio que o leitor que perde tempo neste espaço domingueiro sabe muito bem que o filme trata da gravação, em 1974, do icônico disco que juntou os dois enormes artistas brasileiros.
Se sou fã de ambos? O suficiente para ter duas cópias do CD, embora admitindo que a conversa pode resvalar para o cabotinismo, e como tal, excessivo, nada minimalista.
Há farto material na imprensa e na internet sobre a obra que Roberto Oliveira levou quase 50 anos para editar – ele tinha as imagens – e decidir que mais gente merecia ver o quanto a desconfiança, atiçada por muitos de ambos os lados, pode se desmanchar feito espuma e se transformar em algo que o tempo e as intempéries não são capazes de destruir.
Mas queria falar um pouco mais sobre o Tom. O documentário foi gravado – como o disco – nos Estados Unidos, onde o Brasileiro era amado, às vezes até mais do que por aqui, de maneira intensa e surpreendente.
Ele já havia feito, em 1966, um disco com Sinatra, a pedido do próprio, que se encarregou de ligar para o Maestro no Bar Veloso, no Rio de Janeiro, onde este entornava alguns chopes com seus amigos Dico e Cabinho (adoro esse tipo de apelido). Resumindo a história, a obra foi eleita pela crítica o álbum do ano e chegou ao segundo lugar entre os mais vendidos. Perdeu apenas para os Beatles - mas quem ganhou deles em popularidade no planeta?
(Conta-se que Sinatra gravou Dindi de olhos fechados, do começo ao fim. Imitando-o, é assim que costumo ouvi-la na gravação.)
Daí para frente, foi só contabilizar fãs nos EUA. Uma delas, a atriz e cantora Dinah Shore, uma estrela por aqueles tempos, viu Tom chegar de penetra – ele não queria ir – ao seu aniversário. Ao abrir a porta do seu apartamento em NY, onde já se encontravam grandes nomes do cinema americano, como Henry Fonda, não se conteve ante a “sagrada” aparição: ajoelhou-se, beijou os pés do Maestro e disse, ante uma plateia perplexa com a cena:
- Aqui está o maior compositor de música popular do mundo!
Seria eu, por acaso, que iria contradizê-la quase 60 anos depois?
Jamais!
E, cá para nós, nem tão popular em terras brasileiras, o nosso Tom Maior, até mesmo na cidade em que ele optou por viver (“Morar em Nova Iorque é bom, mas é uma merda; morar no Rio é uma merda, mas é bom", dizia).
O cineasta Joffre Rodrigues, filho do tricolor Nelson, passava uma temporada por lá e pôde ver Tom em um programa televisivo apresentado por Sinatra e mandou ver em O Globo: “Ouve-se Tom Jobim em Nova Iorque duas vezes mais do que no Rio de Janeiro” (vale para quem acha que, de fato, o caranguejo é alagoano).
Talvez hoje essa proporção seja um tanto maior, e eu lamento por quem não se dá o direito a um prazer tão especial.
É verdade que Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim não teve um final perfeito. Mas fazer o quê? Há de se entender também que ele não era deus.
(Ou era?)