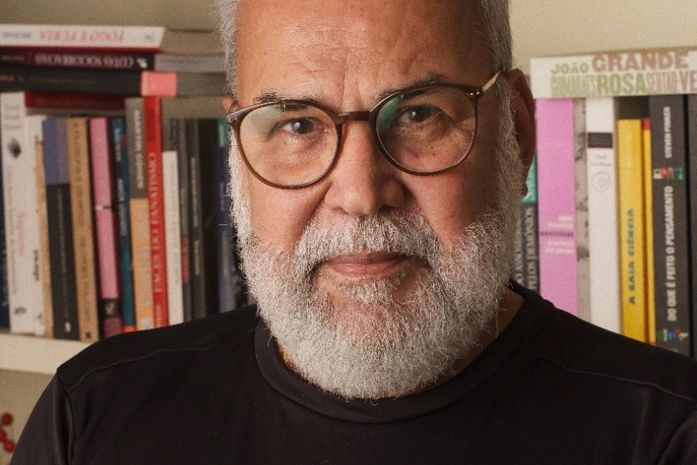Que não há dois seres humanos iguais, disso a biologia não deixa dúvidas, embora não explique tudo sobre o personagem único e tão variado que habita o nosso corpo.
Cada indivíduo é uma construção coletiva, feita de pedaços de outros, que se amalgamam até o ponto em que as partes não possam mais ser identificadas, uma a uma. Mas assim como uma mistura de tintas de cores diversas, é até possível especular sobre as origens daquilo que se apresenta para o mundo – de cada um de nós.
O genial Sigmund Freud, tido e havido como um cientista exclusivamente preocupado com os conflitos individuais, não fosse ele o perscrutador mais bem sucedido da alma humana, desde sempre coletiva e imutável, escreveu em Psicologia das massas e análise do eu:
“Na vida psíquica do indivíduo, o outro entra em consideração de maneira bem regular como modelo, objeto, ajudante e adversário, e por isso, desde o princípio, a psicologia individual também é ao mesmo tempo psicologia social”.
Eis uma boa pista para entendermos um pouco mais do que somos e por que somos assim, de um jeito que nem sempre nos agrada, mas em permanente metamorfose. É um exercício interessante, que não caminha em linha reta, e que é capaz, entretanto, de nos trazer algumas revelações surpreendentes - ou nem tanto, se o praticamos com alguma frequência.
Lembro uma historinha da MDB que pode bem ilustrar a presença do outro naquilo que você faz ou acredita ser o certo ou o belo – já que tratamos da arte, agora.
Após a morte de Tom Jobim, num depoimento emocionado, Chico Buarque disse, em inegável lamento, que tudo que escrevia e compunha era para o Maestro Soberano. Lembrou, então, o poeta João Cabral de Melo Neto, que revelou pressentir uma figura invisível olhando por sobre o seu ombro sempre que punha seus versos no papel. Se o personagem imaginário tinha um nome, o inspirado e amargurado escritor de Cão sem plumas não contou (todos nós temos insondáveis segredos).
Pois bem: Tom era modelo e referência para o autor de Eu te amo, uma das mais belas, bem urdidas e sofisticadas canções brasileiras de todos os tempos (e ele fez tantas, imagino, pensando no seu involuntário juiz).
Esta semana, mais uma vez, me peguei num exercício puramente especulativo, ao tentar pensar como o meu pai, o zeloso, às vezes duro, às vezes terno, seu Mota - eterno moleque da Buarque de Macedo. Era uma questão banal, mas de certa gravidade, e imaginei que ele teria a melhor solução para o que se apresentava, compondo um enredo que, mesmo que não parecesse genial – e ele era uma pessoa muito simples -, seria, ao meu ver, o mais justo. E era isso o que eu buscava.
Creio que ainda vou, tanto quanto for preciso, beber nessa fonte cujas águas ainda me parecem tão cristalinas. Não, não tem nenhuma relação com o sobrenatural, até porque poucas coisas me parecem mais naturais quanto lembrar o jeito humano, contraditório e carregado de bonomia que seu Mota entregava aos seus julgamentos.
Claro que foram muitos os que se tornaram atração e aversão ao meu aprendizado de gente, essa tarefa inacabável. É certo, também, que esses últimos, com o tempo e a maturidade, ditaram-me, com inegável sucesso, práticas de comportamento absolutamente avessas ao que eles são – como se um sinal amarelo se acendesse no meio do caminho das minhas ações. Vem destes personagens, seguramente, muito da repulsa que alimento a assassinos, misóginos e racistas.
São as nossas necessárias referências do mal, essenciais na formação de qualquer um que entenda e busque o respeito ao outro, mais do que no amor diluído e não identificado pela humanidade em geral, aquele sendo um bem precioso que devemos perseguir.
Evidentemente, hei de preferir sempre me abastecer naqueles – mesmo os que se foram – a quem admiro e trago entre os meus bem-quereres. Sem esquecer, porém, dos que me fazem, no sentido inverso ao deles, querer melhorar um pouquinho mais até o ponto final.
Porque, pelo menos isso eu aprendi: cada um de nós é único – apesar de muitos.

Ricardo Mota