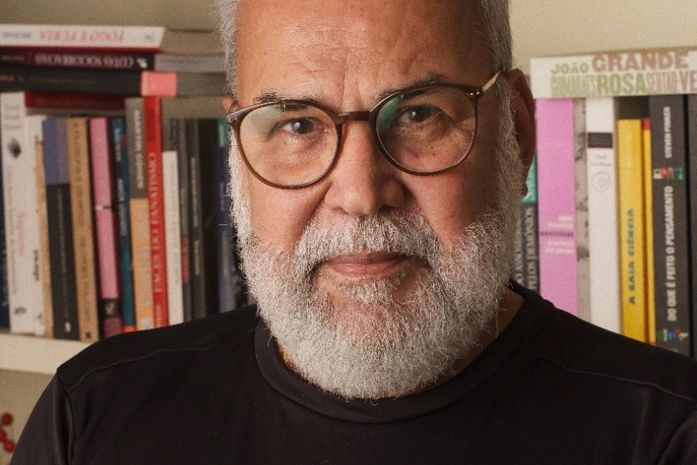Remédios para emagrecimento estão, de novo, na moda. Imagino que eles produzam muitos dos efeitos pretendidos, mas fico desconfiado quando os vejo virarem tema de reportagens as mais variadas, de entretenimento e gracejos, em tempos de merchandising.
Substituem, sem muito trabalho ou privação, uma alimentação menos calórica, atividades físicas e algumas cositas más - nem sempre agradáveis. Quanto ao uso ou abuso, fica ao gosto (ou necessidade) do freguês. Afinal, ninguém fica feliz, em regra, com uma gordurinha na lateral da barriga ou uma papada sem jeito abaixo do queixo, em tempos de selfies.
A coisa está tão séria, e o objeto do desejo tão valorizado no mercado branco, que já existem até quadrilhas especializadas em roubos a farmácias, na corrida em busca do ouro lipoaspirador: “Mãos para o alto, isso é um assalto!”. E lá se vão seringas prontas para corrigir os excessos da vida toda (quando é o caso).
No contraponto, diz um amigo meu, médico e sábio, em tom de blague, que “se todos os remédios fossem jogados no mar, melhor para os homens, pior para os peixes”. Aos mal-humorados, previno: isso é uma piada de um sujeito especial, Marçal Bernardes, que fez a opção preferencial pela vida, e que tem como filosofia outra máxima: “O que mata é maltrato”.
Remédios são como bichos (e somos todos bichos): nascem, crescem e desaparecem - parecidos com tudo que bole sobre a face da Terra.
Machado de Assis, um doente crônico, gago, epilético, asmático, quase cego em decorrência de uma retinite nunca curada, perguntou num texto divertido, publicado na imprensa carioca em 1893:
- Por que os remédios morrem?
Talvez seja porque se parecem tanto com gente: precisam dar espaço para que outros surjam, brilhem e, na sequência, se apaguem. Imaginemos que o medicamento que vem depois seja sempre melhor, mais aprimorado, ou que não tenha os efeitos colaterais condenados nos seus antecessores.
Todo mundo há de ter na memória afetiva um “Xarope Brandão, o defensor do pulmão”. Até a cloroquina já teve seus dias de glória, e não faz muito tempo: na última pandemia virou o hit das farmácias e drogarias. Indicada até por médicos, vejam só! Se o paciente tinha malária, era pimba! E o vírus da Covid-19 que não se metesse a besta, porque senão a poderosa droga iria transformá-lo em micromemória - se muito.
Danado para a turma é que veio a vacina, e a cloroquina perdeu a majestade.
Um desses milagres da ciência, que provocou furor na esperançosa sociedade alagoana, há alguns bons anos, foi um composto – eram várias as medicações – que dava conta do mal pela raiz. O culpado de tudo? Os radicais livres, que apareciam a todos como uma nova e espetacular descoberta científica. Envelhecer passaria a ser, então, quase que uma escolha, seguindo a prescrição e adiando em muito a chegada da indesejada dos homens.
Entrevistas, artigos, conferências e o dedo acusador, em todos os lugares, ubíquo e altissonante:
- Eles, os radicais livres!
Um desses discípulos de Esculápio, especialista na matéria, passou a ser uma autoridade para tudo. Ao cruzar com ele, na orla, nas minhas corridas de final de tarde, seu semblante sóbrio, quase sombrio, me intimidava, principalmente quando ele fazia um gesto com as duas mãos, as palmas para baixo a indicar:
“Calma! Nada de correr. Andar é o remédio. Cuidado com os radicais livres!”.
No final das contas, mudam os tempos, mudam os hábitos, os remédios e os venenos. É assim: ninguém aguenta viver as mesmices de sempre, as soluções milagrosas e definitivas, que prometem pular de geração para geração. Infinitas, sim, mas só enquanto durarem.
Reviveremos umas tantas vezes esse mesmo enredo de esperança/ frustração, até que alguém, em busca de fama e fortuna, invente o emplastro de Brás Cubas, a panaceia que há de curar todos os males.
Até porque hoje chego à constatação “científica” de que os radicais estão mais livres do que nunca.

Ricardo Mota