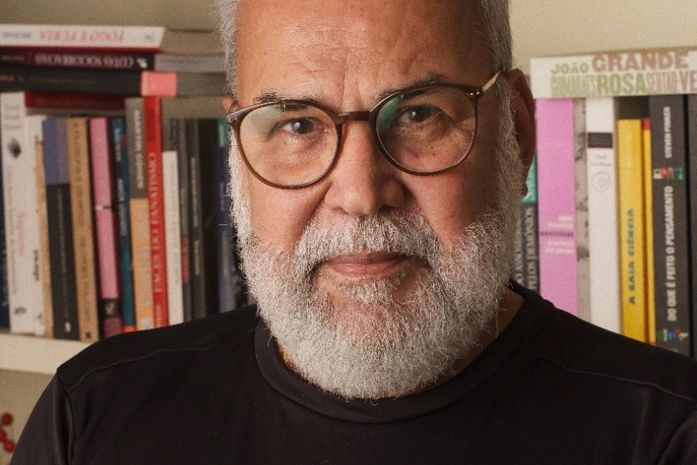Conheci poucas pessoas, em toda a minha já longa caminhada, que fossem tão apaixonadas por cinema quanto Elinaldo Barros. O “Eli da Pituba”, como eu o chamava carinhosamente e em tom de blague, sempre foi extremamente generoso como crítico da chamada Sétima Arte.
Não foram poucas as vezes em que eu, discordando das suas benevolentes – para mim, certo? – avaliações, iniciei uma breve e gentil discussão com ele. Mas o Eli tinha uma consciência rara sobre o seu papel. Entendia que o crítico não deve ser o porteiro imperioso a fechar a passagem para a telona de ávidos espectadores, ainda que nem sempre derramasse elogios a filmes que os merecessem - em minha opinião bem menos abalizada que a dele. O homem era o estilo (a frase clássica é o inverso).
Nem sempre foram ou serão perdoados os críticos de arte e de literatura. Balzac, um inimigo que qualquer um deveria evitar, dizia que eles eram os mais castigados pela vida, por conhecerem todas as regras, mas sem que soubessem jogar.
Que pancada!
Pior destino teve o ex-presidente José Sarney, que integra os quadros da Academia Brasileira de Letras. Ora direis: até o general Aurélio Lira Tavares foi um acadêmico! E é verdade. Este chegou ao seleto grupo de intelectuais e criadores literários brasileiros porque compunha hinos militares (!). Há quem goste. Fazer o quê?
O “dono do Maranhão” tem algo em seu favor, no caso: ele possui uma obra literária. Boa ou ruim, ao menos é de se crer que ele foi o responsável pelas publicações. O ex-presidente é de uma geração em que políticos liam e até escreviam. Isso não garante virtudes, é verdade, mas ajuda a quem quer ser sinceramente ajudado a alargar sua visão de mundo e, se ainda der, encorpar com alguns méritos um caráter de pouca valia.
Lembro aqui um episódio envolvendo JK e Ulysses Guimarães. O pai de Brasília, logo após o golpe de 1964, na esperança de que a ditadura militar tivesse destino breve, procurou o Senhor Diretas pedindo que ele votasse favorável a Castelo Branco, que precisava passar pelo crivo do Congresso para permanecer na presidência (ficaria na principal cadeira do Palácio do Planalto mesmo sem esse aval formal). Ulysses negou o seu voto ao marechal porque era terminantemente contra militares na política. Juscelino, no entanto, insistiu:
- Ele é diferente, já leu muitos livros.
- Mas leu os livros errados.
(Hoje, em regra, nem os errados nem os certos.)
Imagino que o autor José Sarney tremeu nas bases ao lançar seu Brejal dos Guajas e se deparar com a crítica demolidora de Millôr Fernandes, o genial iconoclasta:
- O Brejal só pode ser considerado um livro porque, na definição da Unesco, livro é uma publicação impressa com o mínimo de 49 páginas.
A marreta pegou leve?
“Dizem os íntimos que, depois de 20 anos de esforço, Sir Ney conseguiu chegar à página 50 e gritou para Dona Kyola: - Mãiê, acabei!”
Saiu, então, o humorista-jornalista-escritor-teatrólogo-tradutor a destrinchar a “obra” que o ex-presidente se dispôs a entregar ao mundo, sem imaginar que teria, de fato, um leitor que seguiria linha a linha a sua insólita história. A cidade onde se passa a ação, dominada por dois primos “de pais diferentes !!!”, tem só duas ruas, conta Sarney.
Continua o impiedoso e atento crítico:
- Essas duas espantosas ruas de apenas 120 casas abrigam uma população de 12.683 pessoas (105 pessoas por casa). O verdadeiro baião do maranhense doido!
Confesso que nunca conferi se o texto do Millôr replicava, de fato, a invenção literária de José Sarney. Mas quem encararia as 50 páginas duramente escritas pelo poderoso maranhense, após o desfecho da análise do mais impiedoso crítico que um inventor de enredos poderia encontrar na vida?
O que disse ele:
“Brejal dos Guajas, do Sarney, é um desses livros que quando você larga não consegue mais pegar”.

Ricardo Mota