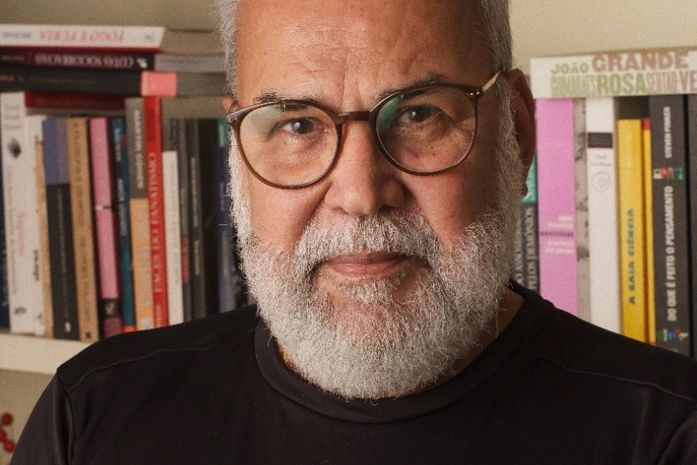O Mandarim é um delicioso conto de Eça de Queiroz (ou Queirós), um dos maiores escritores em língua portuguesa de todos os tempos. Peço perdão aos leitores que não conhecem a pequena brochura, mas o spoiler me parece inevitável, infelizmente. Pelo menos para o que propõe tratar esta breve crônica domingueira.
Vamos a ele.
Teodoro, o personagem central da história “moral” de Eça de Queiroz, era um funcionário público que dedicava horas do seu dia/noite a leituras variadas. Eis que se deparou, certa feita, com um enredo surpreendente: um capítulo de Brecha das Almas (a ficção dentro da ficção). Em meio às páginas do livro, encontrou uma espécie de botão – digamos assim – com o aviso de que se o apertasse, decretaria a morte de um mandarim, “no fundo da China”, de quem herdaria a fortuna.
Depois de brigar por muitos dias com a sua consciência, o modesto e, até então, correto Teodoro deu cabo daquele que o tornaria um homem muito rico, cercado de amigos e amantes.
Eis que após anos de bem-viver, ele recebeu a visita do que veio a ser a mais indesejada companhia: o remorso (vale a pena ler o conto, apesar do adiantamento aqui exposto). É sobre o sentimento de culpa e arrependimento, rebote das ações que a consciência dos humanizados repulsa - o que distingue, pela ausência, os verdadeiros assassinos.
Teodoro pagou pelo mal que fez de maneira especial, e não menos dolorosa. Se as noites se tornaram um tormento para o personagem do criador lusitano, é bom não esquecer que na vida real os criminosos convictos dormem o sono dos anjos. Isso dói saber, concluo, como quase sempre acontece com a verdade dita.
Vamos a uma pergunta: é possível aprender a matar?
Creio até que sim, mas não há de ser uma missão das mais fáceis, exceto para os psicopatas. Mesmo olhando, horrorizado, como os leitores e as leitoras, o assassinato frio e brutal praticado recentemente por dois policiais rodoviários federais, em Sergipe, não entendo que eles tenham seguido um padrão de treinamento da instituição (certeza de impunidade é outra história). Basta ver que esse não é o comportamento majoritário dos agentes da PRF. Suponho que eles já traziam, na própria natureza, vinda lá de não sei onde e quando, uma sementinha de maldade, que desabrochou tragicamente.
Mesmo os integrantes das Forças Armadas dos EUA, país que vive em permanente estado de guerra, não parecem absorver com facilidade, e, na sequência, praticar os ensinamentos de alguns dos seus instrutores e comandantes: matar sem piedade e sem culpa.
É o que mostra o primatólogo, etólogo e psicólogo holandês Frans de Wall, em A Era da Empatia (continuação de Eu, primata). Apontando para o estado emocional deplorável, na média, dos ex-combatentes americanos de qualquer guerra, ele argumenta sobre as consequências devastadoras da prática homicida, gente matando gente:
“Matar de verdade, a curta distância, não produz nenhum sentimento de glória e prazer, e é algo que os soldados, muitas vezes, tentam evitar a qualquer custo. Apenas uma pequena parcela – 1% ou 2%, talvez - é responsável pela maioria das mortes numa guerra”.
E continua: “A maior parte dos soldados descreve uma profunda aversão ao ato de matar. Eles vomitam ao ver os inimigos mortos, e terminam assombrados por essas lembranças”.
Ou seja: treinar só não basta.
É possível até tratar a questão de uma maneira diferente. Isso aconteceu, sabe-se fartamente, com os militares alemães. Simples assim: ao matar judeus e comunistas, eles estavam eliminando vermes – e não homens e mulheres. Um ensinamento com inegável aprendizado para soldados e, triste constatação, para boa parte da população alemã.
Até hoje, os especialistas estudam “a culpa alemã”, que existe sim, mas vai se diluindo – até por necessário – a cada nova geração (sugiro a leitura de O trauma alemão, de Gitta Sereny).
Para os humanizados, que não atravessaram a linha que leva ao território do qual não se retorna, talvez valha mesmo a recomendação de Eça de Queiroz ao leitor (a), “criatura improvisada por Deus, obra má de argila má, meu semelhante e meu irmão”:
- Nunca mates o mandarim.

Ricardo Mota